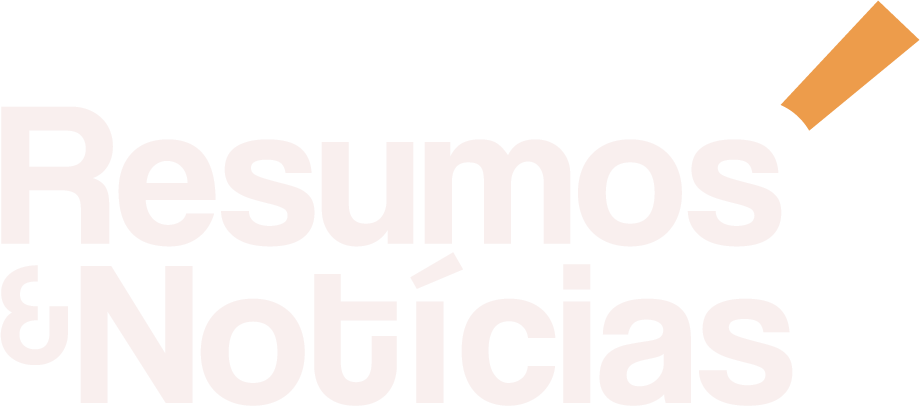“A gente nunca irá deixar de ser indígena”. É com essa frase que o cacique Ademir Rikbakta, da aldeia Beira Rio, da Terra Indígena (TI) Erikpatsa, fala sobre a importância da preservação da cultura do povo Rikbaktsa.
“A gente conversa muito com a comunidade. Aprendi assim com meu pai. A gente conversa muito na língua. Temos dança tradicional e a chicha é nossa bebida. Nunca vamos deixar de fazer cultura. Hoje, estou com meu povo lutando”.
A aldeia Beira Rio foi uma das três visitadas pela equipe da Agência Brasil nos dias 8 e 9 de abril. A luta da qual fala o cacique Ademir Rikbakta fica clara quando se sobrevoa a região. Os trechos de Floresta Amazônica disputam espaço com as fazendas de cultivo de soja e milho e de criação de gado. A Terra Indígena, cercada por lavoura, sente os impactos de ter cada vez menos caça e menos peixes nos rios, além de contar menos polinizadores para manter as plantas da região.
Os Rikbaktsa, de acordo com o Instituto Socioambiental (ISA), vivem na bacia do Rio Juruena, no noroeste do Mato Grosso, nas TI Erikpatsa, Japuíra e Escondido. São 34 aldeias distribuídas pelos territórios, e o povo tem um histórico de luta em defesa de suas terras: até 1962, os Rikbaktsa resistiram contra os seringueiros que avançavam na região para a extrair borracha.
Na década de 1960, os jesuítas, financiados pelos seringueiros, foram os responsáveis pela chamada “pacificação” do povo. O processo levou à dificuldade do ensino da língua materna, uma vez que as crianças, em internatos, eram punidas ao falarem o próprio idioma e obrigadas a se comunicar em português. Com isso, a língua Rikbaktsa passou a ser a segunda mais falada, principalmente entre a população mais jovem. A dita pacificação também levou ao adoecimento e morte de 75% da população e à perda de território.
Hoje, a população voltou a crescer, mas as disputas fundiárias na região permanecem, de acordo com o ISA, principalmente contra madeireiros e garimpeiros.
“O que a gente tem aqui dentro da nossa comunidade é cultura. A nossa cultura é o povo”, diz o cacique Ademir Rikbakta. “É isso que a gente quer passar também para essas novas gerações, esses ensinamentos. Desde os anciãos até hoje, a gente veio aprendendo também”.
A esposa do cacique, Angélica Zokdo, também luta pela resistência da cultura. “Eu, como mãe, sempre eu falo: vocês têm que aprender a fazer. A gente, como mãe, está ensinando a essas crianças que estão vindo agora também, para, depois, eles mostrarem [a cultura], como a gente está mostrando. No dia em que a gente não estiver mais, vai ficar para eles”, diz.
Os Rikbaktsa dividem-se em clãs, sendo os principais Makwaraktsa, que significa arara amarela, e Hazobiktsa, ou arara cabeçuda, que é vermelha. Cada clã e sub grupo da etnia tem a sua pintura corporal específica, e foi assim que eles receberam a equipe de reportagem da Agência Brasil. Com pinturas, artesanato, dança e música.
Avanço das lavouras
Embora a busca seja por manter os costumes, os indígenas não encontram mais no território tudo que precisam para sobreviver. Na aldeia Pé De Mutum, na TI Japuíra, o cacique Francisco Rikbaktsa chamou atenção para o avanço das lavouras.
“A gente era grande e tinha fartura de peixe e carne de animais. Vocês estão vendo que as coisas estão diminuindo para nós. Nosso costume é comer esses alimentos tradicionais. Hoje, estamos cercados. Em volta, é lavoura, e tem a questão de contaminação da água por agrotóxico. Vocês estão vendo, estão pisando aqui dentro da nossa aldeia, dentro da área indígena. Eu falo isso para vocês, porque a gente também sofre que nem um de vocês”, discursou para os visitantes.
Na aldeia Barranco Vermelho, na TI Erikpatsa, Lauro Ruwai Rikbakta foi um dos responsáveis pela refeição servida à reportagem, com caça e peixes. Ele contou que está cada vez mais difícil encontrar os animais.
“A gente fez o impossível. Esta aqui é anta, e este aqui é peixe”, disse, apontando para cada um dos alimentos servidos. “Aqui perto, começaram a plantar milho e soja. Então, o animal vai para o lugar mais fácil de buscar alimento para ele, em vez de estar aqui dentro do mato”.
A caça, que era encontrada com uma caminhada de um quilômetro (km), agora está a cerca de 15 km. Para encontrar alguns animais específicos, é preciso andar ainda mais, cerca de 60 km. Os alimentos colhidos também estão mais escassos. “A nossa roça [plantação] é a cidade, eu vou falar a verdade”.
Cultura na educação
Nas aldeias, o desafio é fazer com que os mais jovens se interessem pelas tradições e conheçam a cultura da qual fazem parte. Uma das estratégias é incorporar o ensino nas escolas do território. Pelo menos uma vez por semana, os estudantes têm aulas sobre práticas culturais, aprendem a língua rikbaktsa, as danças e os costumes.
O professor Givanildo Bismy, da Escola Estadual Myhyinymykyta, em Barranco Vermelho, está terminando o mestrado, no qual estuda literatura indígena. Ele busca trazer para as salas de aula esses ensinamentos.
“É transformar para que as crianças possam ter o conhecimento das histórias. Isso é uma coisa muito importante para nós. A gente já começa a fluir, já começa a ser o protagonista da nossa própria história, do próprio nosso povo. Nós, indígenas, do próprio povo, estamos escrevendo a nossa história, que não tem ninguém que escreveu assim. E a gente começou agora”, diz o professor.
Uma das dificuldades para o ensino da cultura é justamente a falta de materiais específicos. “A gente tem muito pouco esse material próprio que é do nosso povo Rikbaktsa. A gente recebe os materiais de fora, que às vezes não servem para nosso povo. Não é de acordo com o que a gente quer”, diz a professora Gesilene Aikdopa, da mesma escola.
Na Escola EstaduaI Indígena Pé de Mutum, o professor André Apyton, responsável pelo ensino da língua, diz que a falta de materiais impacta no ensino. Até mesmo porque, lá, os alunos não conseguem praticar em casa, pois muitas famílias têm o português como primeiro idioma.
“A ideia é que eles aprendam com as famílias a fala na língua materna e, na escola, eles aprenderiam mais a escrita. Mas isso não vem acontecendo. As famílias não falam. Só os mais idosos que têm domínio da língua. Aí, em casa, geralmente os pais também já não falam mais”, diz.
Retorno para a comunidade
Para Gesilene Aikdopa, a intenção do ensino da cultura não é manter os jovens nas aldeias necessariamente, mas que eles conheçam, defendam o povo e possam, caso sigam os estudos fora, voltar e trazer os conhecimentos para a comunidade.
“Da mesma forma que eles cresceram, nasceram aqui, a gente tenta formá-los em cada profissão para que eles defendam a gente também. Porque têm muitos vindo para a aldeia tirar coisas nossas. Então, a gente também forma para trazer retorno para a comunidade”.
Cumprir essa expectativa é o sonho de Rogerderson Natsitsabui, da aldeia Pé de Mutum. Hoje, aos 30 anos, ele segue na aldeia participando de projetos e se aprimorando, com o sonho de cursar direito para advogar pelo próprio povo.
“Eu acredito que, futuramente, eu vou, se Deus quiser, ingressar numa faculdade. Para mim, isso é um avanço, mas eu nunca vou deixar o que eu aprendi aqui”, diz. “Meu foco, desde quando eu comecei a participar de mobilizações, sempre foi direito. Eu nunca desisti disso”.
Assim como diz o cacique Ademir Rikbakta, para Rogerderson Natsitsabui, algumas coisas podem mudar, mas ele nunca deixará de ser indígena.
“No mundo afora, têm pessoas que têm uma visão dos povos indígenas em que, se eu estou com um iPhone meu, eu perdi a minha cultura, eu não falo mais a minha língua materna. A gente precisa mostrar [que não é assim], levar [nossa cultura] daqui para fora, mostrar quem somos. Isso eu acredito que nos fortalece”.
*A equipe da Agência Brasil viajou a convite da Petrobras, patrocinadora do projeto Biodiverso